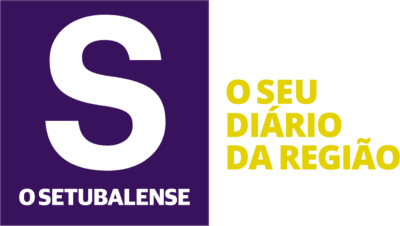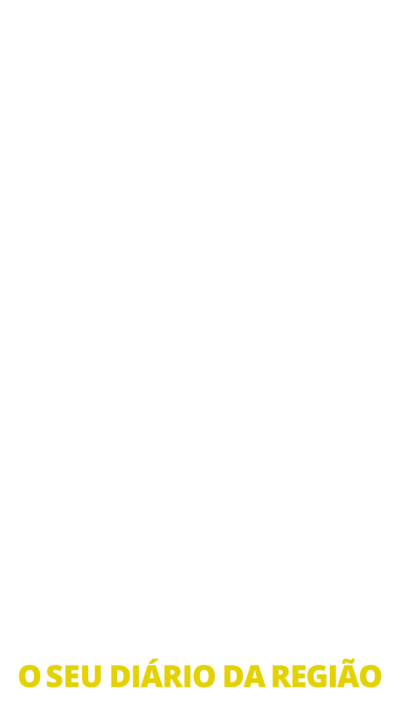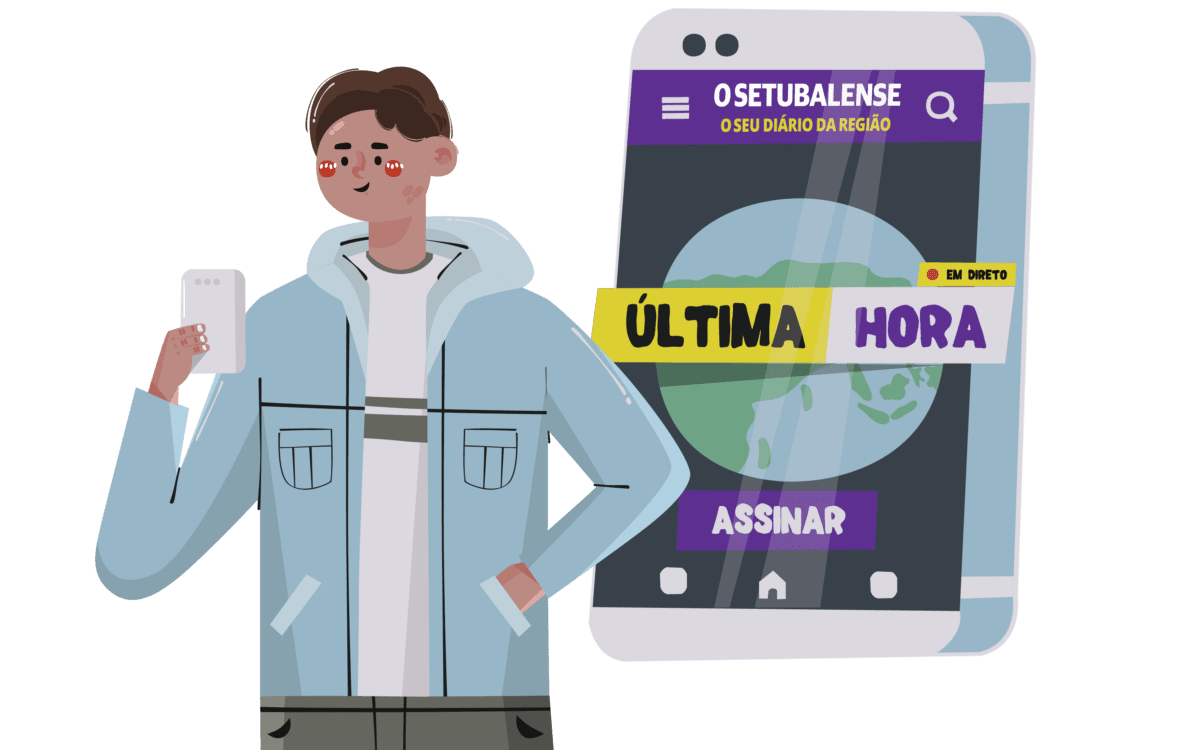Em 1960, Fernanda Botelho (1926-2007) considerava no romance “A gata e a fábula”: “Que sabes tu da guerra além do que dizem os periódicos? Que sabe essa gente? Que sei eu? Todos falam da guerra, de todos os titulares das rédeas, Hitler, Churchill, Montgomery, Rommel… uma série de nomes! Ninguém fala do homem-soldado, esse desgraçado nosso irmão e condenado a matar ou a morrer, como as feras…”
Esta é a sensação que persiste das notícias que correm, muitas vezes eivadas de informação enviesada. Depois, quando confrontados com os relatos dos que sobreviveram, o caso é mais sério, pois estamos perante epopeias individuais de seres que viveram a fragilidade e o medo, o desespero e o trauma.
O que sabemos e vemos, de facto, é aquilo que Stefan Zweig (1881-1942), no seu “Jeremias” (1917), registou: “A guerra é grande nos livros, mas na realidade ela é aquilo que degola e profana a vida.” E não podemos ler esta curta afirmação sem nos lembrarmos das imagens de destruição sem sentido com que somos confrontados, as ruínas do mundo material, imagens que são de uma ruína maior: a das pessoas.
A guerra que vemos a alastrar no tempo cansa, é verdade. E, com razão, se deseja o seu fim pelo seu sem-sentido, pela disrupção que provoca com o essencial do que é o humano. No entanto, querer esse fim sabe a pouco – José Gardeazabal (n. 1966) deu conta dessa contradição no romance “Quarentena – Uma história de amor” (2021) ao dizer: “A paz é um eufemismo do fim. Na guerra ansiamos pelo fim, não pela paz.” E bom seria se o fim de uma guerra fosse o fim de todas as guerras. Mas, como a História tem provado, essa é a utopia. Em 1954, cantou Jacques Brel (1929-1978) que “é muito fácil acabada a guerra / andar a gritar que esta foi a derradeira.” E muito mais irónico foi Charles Bukowski (1920-1994) quando se pronunciou sobre o que pode orientar a contestação da guerra, ao registar no diário “O capitão saiu para almoçar e os marinheiros tomaram o navio” (1998): “As pessoas que protestam contra a guerra precisam de uma guerra para florescer. Há quem faça boas vidas a protestar contra a guerra. E, quando não há guerra nenhuma, não sabem o que fazer.” Brel e Bukowski demonstravam, cada um à sua maneira, que o fim das guerras não passa, afinal, de uma questão de intervalos… Já Séneca (4, ac-65), no seu diálogo “A vida feliz”, dirigindo-se ao irmão Gálio, dava uma pista para esta questão dos intervalos – “Nunca um general confia na paz ao ponto de não se preparar para a guerra.”
A verdade que fica de todas as guerras é aquela que Philippe Claudel (n. 1962) pôs em “Almas Cinzentas” (2003): ela “massacra, mutila, macula, suja, esventra, decepa, esmaga, tritura, mata”. Outra verdade que também vamos interiorizando foi pensada por José Gardeazabal no romance “Quarenta e três” (2021), numa tela forte: “O sangue cá fora e a porcaria moral lá dentro, eis a descrição sumária de um combate.”
Que possibilidade para o fim de todas as guerras? Gianni Rodari (1920-1980) alvitrou, ainda que numa narrativa mais ou menos infantil, no livro “Histórias ao telefone” (1960): “O descanhão é o contrário do canhão, serve para desfazer a guerra. (…) Até uma criança consegue manejá-lo. Quando há guerra, tocamos a descorneta, disparamos o descanhão e a guerra desfaz-se imediatamente. Que maravilha, o des-país!”
Enquanto não acontece essa valorização da palavra, sentiremos a amargura que José Craveirinha (1922-2003) tão bem poetizou em “Karingana ua Karingana”, de 1974: “aos que ficam / resta o recurso / de se vestirem de luto. // Ah, cidades / favos de pedra / macios amortecedores de bombas.”