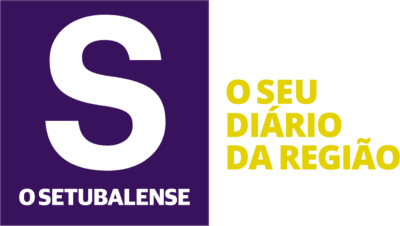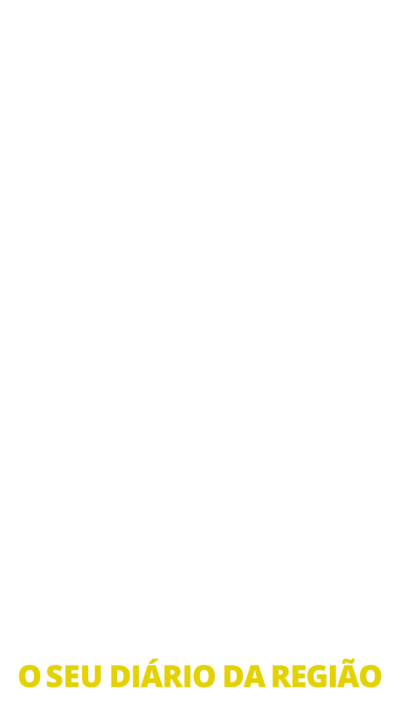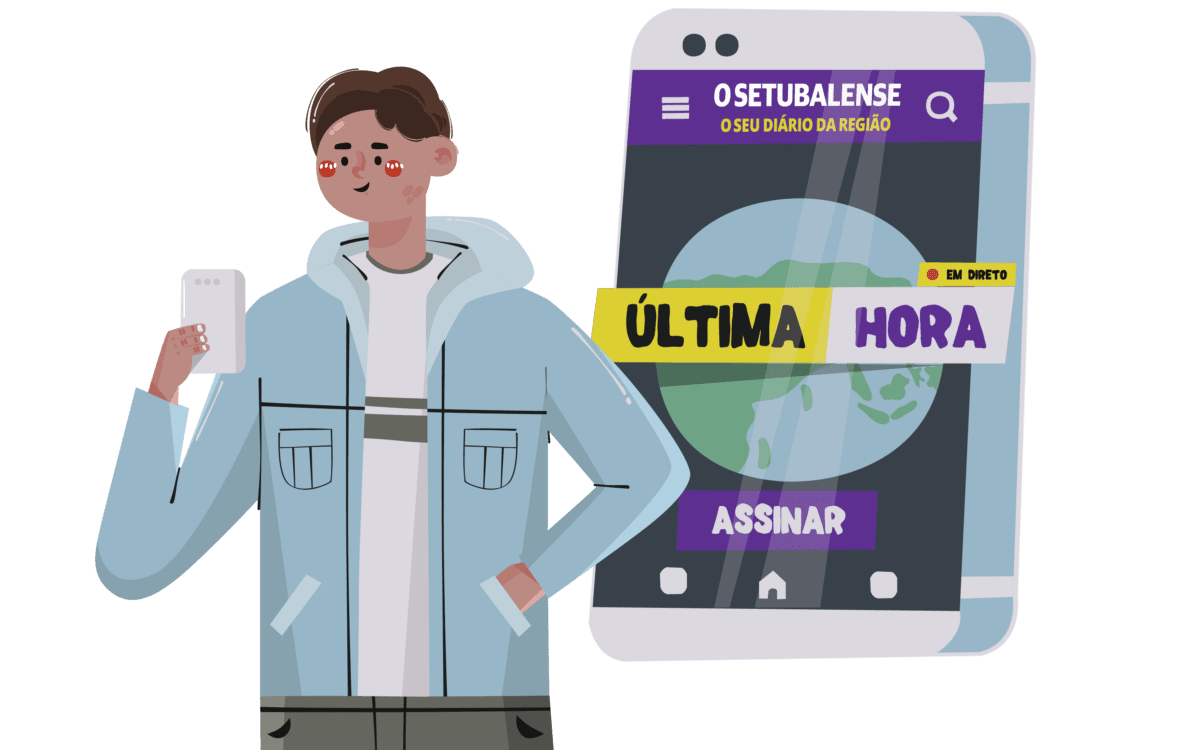Fernando Gandra (1947-2021), algarvio de nascimento, exilado por ideias, setubalense por adopção, fez, entre a poesia e o ensaio, contínua reflexão sobre a palavra, demandando utopias, numa difícil relação com o tempo, que, no seu segundo livro, “As forças amadas” (1981), apresentou como “a imensa cinza da idade”.
A palavra, para Fernando Gandra, apresenta-se como se nela se encontre a liberdade de ser, de fazer, de sentir… ou não se intitulasse o seu primeiro livro “Para uma arqueologia do discurso imperial”, percurso sobre o significado da linguagem quotidiana e as suas implicações no pensamento.
Um exemplo: “Que significa ‘funcionar bem’? Funcionar sem resistência que, aliás, é condição de qualquer funcionamento.” Clara definição, pretexto para explicar o papel da lei, do poder, definidores do que é a desordem e de formas de estruturar o desejo, num caminho em que se fala da natureza, por um lado, e da cultura trazida pela norma, por outro.
No final desse livro de 1978, surge um dos temas de eleição que Fernando Gandra irá sempre trabalhar – a utopia, aqui definida como “esse erro iluminado como um santuário que nos faz viver e pelo qual muitos ascetas têm morrido, calcinados pelo sonho.”
Nada lacónica esta definição… que retomaria, por outros dizeres, no prefácio que assinou para a obra “A noção de cultura nas ciências sociais”, de Denys Cuche, em 1999: “Terra de ninguém, lunar, a utopia é uma imobilização artificial do tempo, uma redenção de baixo preço, apressada, fulminante.”
Na última obra ensaística, “O sossego como problema”, de 2008, a utopia continua a preocupar as suas letras, com tonalidade poética: “A linha do horizonte situa-se no ponto indefinido onde o céu e a terra se unem. É indefinido porque recua à medida que avançamos. A linha do horizonte só é fixa e acessível à distância.”
E assim vai construindo o percurso que visa entrar pelo horizonte, aproximar-se da utopia, embora sabendo que essa distância nunca se reduz…

Fernando Gandra valoriza a palavra no ensaio, aí fazendo dela objecto; tonifica-a na poesia. A palavra contém todo o saber e toda a justiça do mundo, quase como se só ela fosse a concretização da utopia.
É por isso que os dois versos de “O lado do cisne”, de 1984, nos advertem: “À gente simples ninguém perdoa / o sábio voo das sílabas.”
Esta metáfora do dizer permite que o discurso se adeque às circunstâncias, nos transporte pelas distâncias, nos fidelize ao tempo e à paisagem, como, harmoniosa e subtilmente, nos lembra num poema de “Os lugares”, de 2015: “Não, isto não é o cais das colunas / não, aqui não há índias nem brasis para encontrar. / Não, isto aqui não é o Ca d’Oro / da longínqua e sumptuosa Veneza / que enriqueceu com as especiarias. / Aqui falamos banalmente / de sargos e de enguias. / E na maré baixa, / quando muito baixa, / de lodo.”
Num poema de 2019, não publicado, Fernando Gandra escreveu sobre um dos seus espaços de eleição, Tróia: “esta península de deus / esta improvável língua de areia / talvez seja uma filial do céu. / (…) / Aqui pratico o amargo prazer da escrita. / (…). / Resta-me fazer e refazer nesta pacífica areia / o meu estranho mapa-mundi.”
A sua utopia, poderíamos dizer, que, no livro de 2008, pintou como paisagem do silêncio: “É um sermão sem palavras que nos convida a pensar sobre o que já ouvimos e sobre o que ainda não dissemos, nem vamos dizer. Sobre a tentação de falar e o incómodo que é, que pode ser, ouvir.”