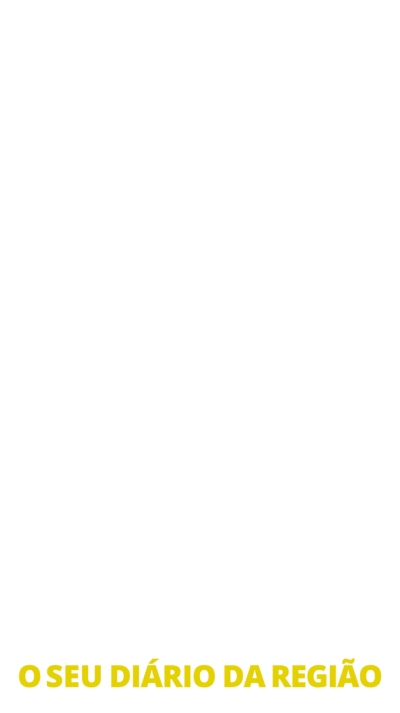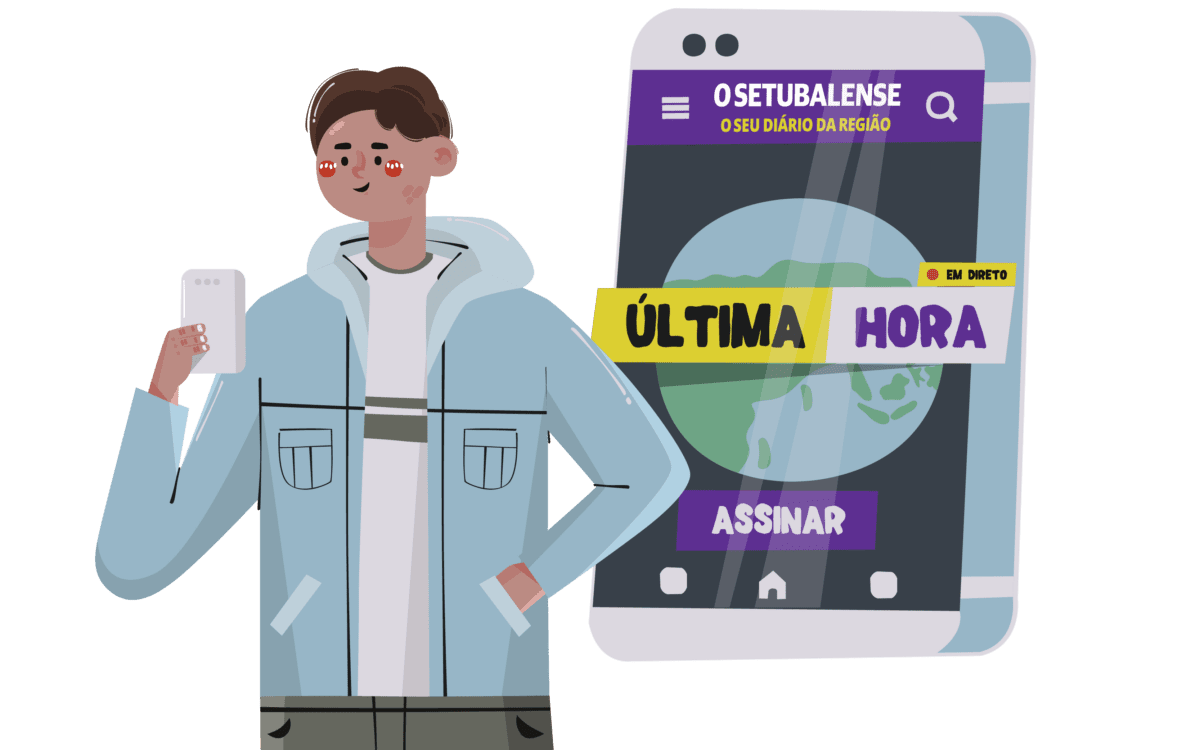Entre os anos 1950 e 1970, milhares de operários chegaram ao Barreiro e, sem acesso à habitação, ergueram com as próprias mãos bairros inteiros de esperança e luta
A prosperidade industrial do Barreiro nas décadas centrais do século XX foi tão rápida quanto desigual. Com a expansão das grandes unidades industriais da CUF e da ferrovia, o concelho tornou-se um íman para milhares de trabalhadores de todo o país. Vindos maioritariamente do Alentejo, do Ribatejo, da Beira Interior e do Norte, muitos desses operários aportaram à margem esquerda do Tejo com a promessa de um trabalho fixo, mas encontraram uma cidade incapaz de os acolher.
O parque habitacional era escasso e os preços inacessíveis. Sem respostas por parte do Estado nem da indústria, milhares de famílias começaram a edificar com as próprias mãos aquilo que hoje conhecemos como bairros de autoconstrução — conjuntos urbanos informais, erguidos sem licença, sem planeamento, mas com um profundo sentido de dignidade e pertença.
A Quinta da Mina, o Rouxinol, as Marianas, zonas periféricas do Lavradio ou da Verderena, entre outros núcleos, cresceram de forma quase espontânea. Os lotes de terreno, muitas vezes baldios ou sem uso agrícola, eram ocupados por famílias que começavam por erguer pequenas barracas de madeira, chapa ou adobe. Aos poucos, as estruturas evoluíam para casas de alvenaria simples, com telhado em duas águas, uma ou duas divisões e latrina exterior.
Este processo não era apenas um acto de necessidade, mas um verdadeiro movimento de organização popular. As famílias trabalhavam em turnos na CUF ou nas oficinas da CP, e à noite revezavam-se nas obras. Ferramentas passavam de mão em mão, conselhos circulavam entre vizinhos e cada casa erguida tornava-se um símbolo de conquista colectiva. A entreajuda era prática comum. “Hoje ajudo-te a levantar a parede, amanhã ajudas-me a pôr a telha”, diziam.
Sem infra-estruturas básicas, os moradores auto-organizavam-se em comissões informais para negociar com as autoridades locais. Lutavam por electricidade, água canalizada, saneamento básico, escolas e transportes. Muitas vezes, essas reivindicações eram ignoradas — até que o descontentamento se tornava demasiado visível para ser silenciado.
A partir do final da década de 1960, alguns destes bairros começaram a receber atenção dos serviços municipais. Mas seria apenas após o 25 de Abril de 1974, com a chegada da democracia, que as exigências da população se tornariam bandeiras políticas. O conceito de “direito à habitação” passava da teoria à prática, impulsionado por programas de reabilitação urbana e por iniciativas como o Programa Especial de Realojamento (PER), criado na década de 1990 para eliminar barracas e condições precárias nas periferias urbanas.
Vários desses bairros foram então alvo de regularização, realojamento ou reconstrução total. Noutros casos, os próprios moradores puderam legalizar e melhorar as suas casas com apoio técnico da autarquia. No entanto, muito mais do que as infra-estruturas construídas, o mais importante legado destes bairros foi social, comunidades unidas, solidárias e com forte consciência cívica, onde os laços de vizinhança eram mais fortes que o cimento.
Hoje, apesar das transformações urbanas, é possível reconhecer nos rostos, nas ruas e nas histórias orais do Barreiro o impacto dessa geração que, com pouco mais do que mãos calejadas e esperança, ergueu não apenas casas, mas também uma identidade colectiva. Uma cidade feita de tijolos improvisados e convicções firmes, onde o direito a habitar e a lutar caminharam sempre lado a lado.