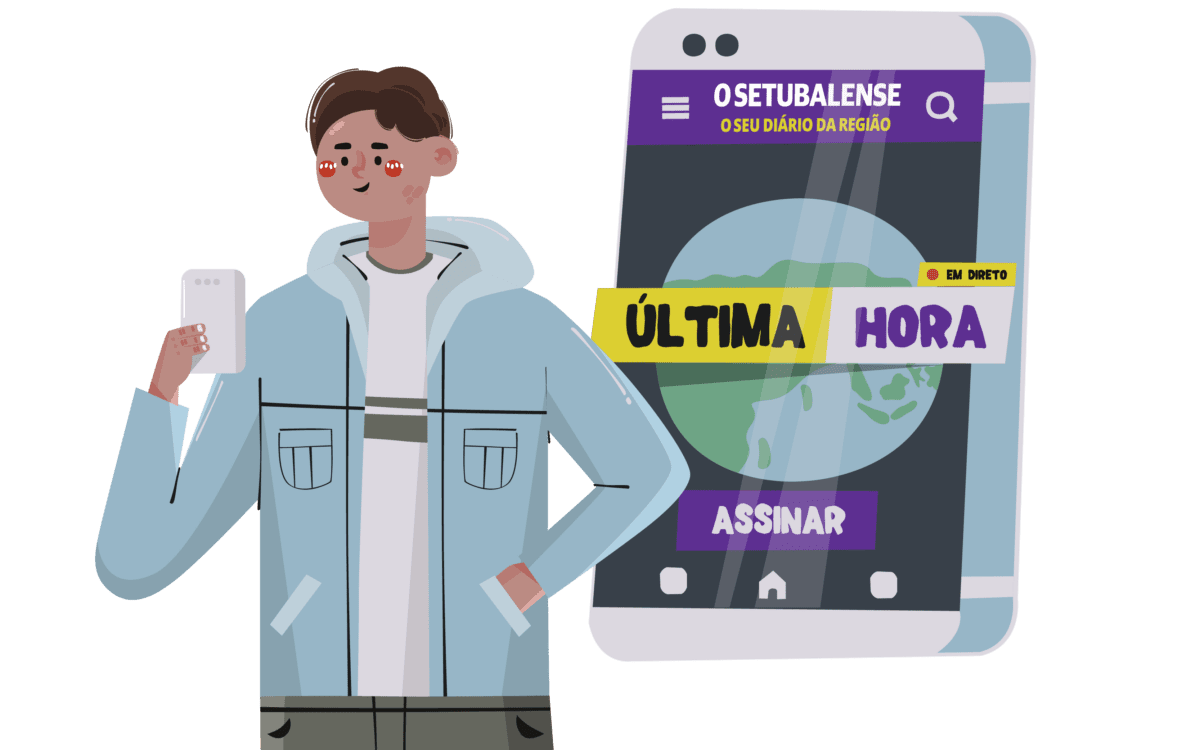Regressei há dias dos Estados Unidos da América onde participei na Convenção do Partido Democrata, que confirmou a candidatura de Kamala Harris à presidência. Do lado de lá do Atlântico, que banha a nossa costa, tomam-se este novembro decisões da maior importância para a vida não só dos seus concidadãos como também do mundo.
Depois de um arranque acidentado, com uma tenebrosa prestação de Joe Biden no debate com Trump e que propiciou a sua desistência da corrida, os democratas apresentam agora uma campanha com enorme mobilização e alegria, palavra sistematicamente repetida para caracterizar a atual vice-presidente e candidata à Sala Oval. Na mesma terça-feira, Harris conseguiu encher não só a sua convenção no United Center em Chicago como ainda o local da Convenção dos rivais Republicanos. Aliás, o tamanho das multidões tem afetado o tamanho ego de Trump, que fez a mirabolante acusação que estas teriam sido criadas por inteligência artificial.
A mensagem principal dos democratas pode resumir-se a uma palavra: liberdade, reclamando-a, bem como ao patriotismo, dos conservadores. Este é um objetivo declarado de progressistas por todo o mundo, agora respondido de forma coerente e consistente. É um apelo, em primeiro lugar, sobre a liberdade de o governo não se intrometer nas decisões amorosas, reprodutivas ou literárias dos americanos – seguindo a “regra dourada” de “mind your own business” (cuide da sua vida). Seguindo as pisadas do filósofo G.A. Cohen, é questionada a liberdade de outros agentes interferirem na nossa vida, designadamente através da poluição, baixos salários ou violência com recurso a armas de fogo. Se o Estado adota leis que conferem liberdade a esses agentes, é também o Estado que, no reverso da medalha, limita a nossa liberdade nestes aspetos. Estas liberdades negativas (“liberdades de”) enriquece o já tradicional apelo da esquerda sobre as liberdades positivas (“liberdades para” estudar, ter cuidados de saúde, ter condições de mobilidade).
Mas o que se passa do lado de lá do Atlântico interessa-nos por muito mais do que curiosidade ou debate ideológico. Interessa pelo papel que os Estados Unidos têm no mundo. Se demasiadas vezes foram ao encontro do militarismo e da guerra, entre as duas candidaturas veem-se grandes diferenças quanto às guerras na Ucrânia e em Gaza. Por muito que Harris esteja longe de condenar o genocídio do povo palestiniano, muito por pressão ativista, os democratas estão finalmente a apelar e a fazer por termos um cessar-fogo rápido em Gaza. Já Trump desvaloriza a NATO e os seus aliados no Congresso vetam apoio militar à Ucrânia, dando ganhos de causa a Putin, por quem Trump tem tanta simpatia e que tanto o ajudou a ser eleito. E quem se poderá esquecer das tempestuosas guerras comerciais que o homem-laranja travou com a China, lesando em biliões a economia mundial?
Há, claro, vida além da política externa. A política industrial de Biden, com o IRA e o CHIPS Act, aporta generosos subsídios para a transição verde e a industria dos semicondutores, tendo o condão de fazer a despesa em construção industrial crescer 130%. Também a continuidade disto está em jogo nestas eleições. E essas decisões atravessam o Atlântico para afetar a vida das pessoas neste distrito que, via Sines, lidera a transição energética nacional e onde a falta de chips já fez a Autoeuropa parar. Por tudo isto, todos devemos acompanhar o que se passa nos Estados Unidos.