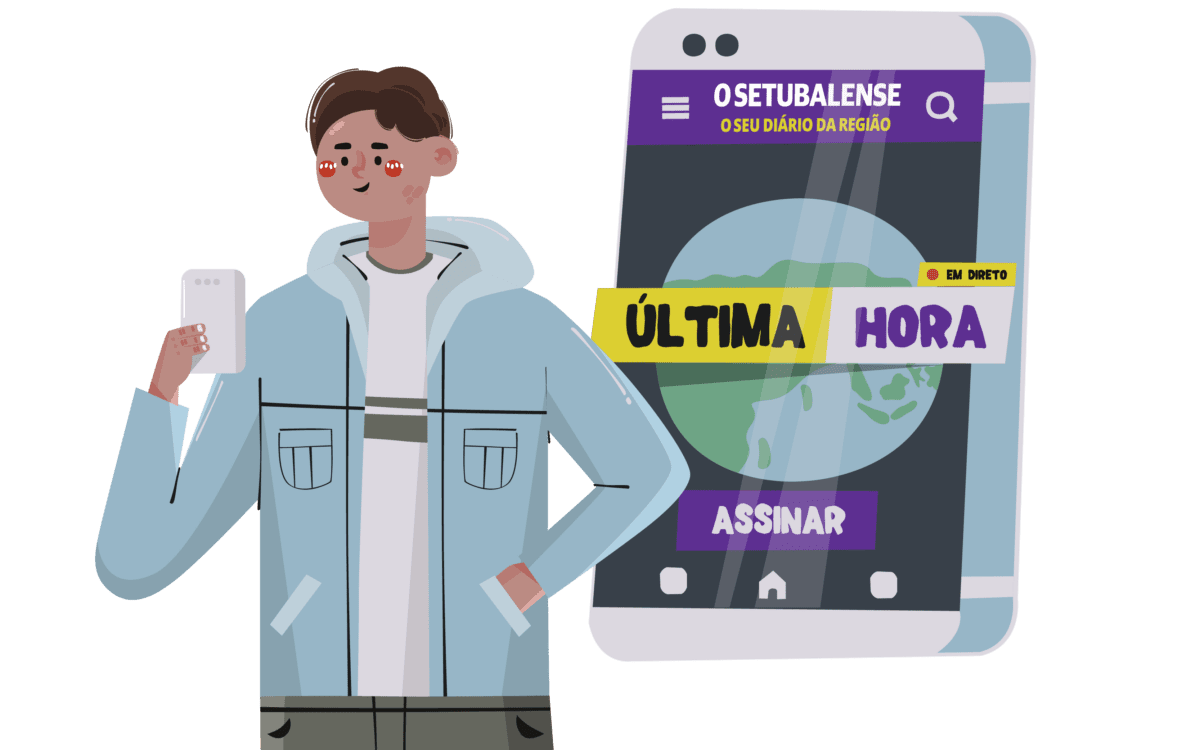Um refratário, que fugiu para Paris para não ir à guerra, revela como foi conhecer um dos grandes nomes da Revolução dos Cravos
Viveu o 25 de Abril na força dos 18 anos. Hoje, com 68 anos, Henrique Guerreiro recorda esses tempos. Tinha 15 anos quando conheceu Zeca Afonso e o compositor e cantor, que admira profundamente, teve uma grande influência na sua juventude.
Zeca Afonso, cuja arte teve oportunidade de apreciar de perto, brindou-o com uma longa amizade. Com 18 anos tornou-se trabalhador da Socel, fábrica de pasta e papel, em Setúbal, que é agora da The Navigator Company, e, acompanhado por mais um colega de trabalho, colava bilhetes com palavras de ordem como “‘m à guerra colonial” ou “todos à rua no primeiro de Maio”. Actualmente morador no concelho do Montijo, Henrique partilha connosco as suas memórias da cidade de Setúbal antiga, cheia de barracas, e da sua relação com José Afonso.
Qual foi o seu primeiro contacto com Zeca Afonso?
Recordo-me que era um jovem estudante, na antiga Escola Industrial, penso que teria uns 15 anos, e, através de amigos da minha idade, e dos ‘lhos de José Afonso, tornei-me amigo dele.
Sabia que o José Afonso tinha sido professor de alguns colegas meus. Ele tinha sido expulso do liceu. Conheci alguns dos discos que tinha feito na altura e ele representava para a minha geração um sopro de liberdade que não era possível na minha altura. Era uma vida diferente, a da ditadura.
Como o conheceu?
A primeira vez que o vi foi no Círculo Cultural de Setúbal. Depois via-o com frequência no Café Central. Na Praça do Bocage havia, na altura, quatro ou cinco cafés onde se juntavam grupos e um deles era o Café Central.
Por vezes, encontrávamo-nos lá. Havia umas mesas em que as pessoas se organizavam também. Havia mesas para mais jovens e para professores onde se respirava um ar diferente. Lembro-me que foi assim que o conheci, no Círculo Cultural e no Café Central.
Depois, quando conheci o ‘lho, ainda antes do 25 de Abril, passei a frequentar a casa dele com regularidade. Jovens, no final da adolescência, com muita intensidade, estávamos sempre a encontrar-nos.
Como foi observar o Zeca Afonso antes do 25 de Abril?
A primeira imagem que tenho, é que era uma pessoa muito mais velha do que eu mas que falava comigo, e com outras pessoas, de igual para igual.
E isso para a época era uma coisa diferente. Depois o tema, daquilo que se conversava, não tinha nada a ver com os outros ambientes que frequentava. Na casa dele, o espanto era a biblioteca.
Os livros, a variedade de literatura, os ensaios, a oportunidade de conhecer também algumas pessoas que frequentavam a casa dele, cineastas, cantores, poetas, músicos. Digamos que, eu já usei esta expressão, a casa de José Afonso para este grupo funcionava um pouco como a Fundação Calouste Gulbenkian, onde se podia ir buscar um livro, falar de um tema que não se falava noutro sítio, ouvir um disco que estava proibido de se conhecer.
A censura actuava sobre todas as expressões públicas. Arte, música, o que quer que fosse. Este jornal, O SETUBALENSE, não saía sem ser completamente verificado por um censor.
Riscavam e diziam “isto não sai” ou então propunham alterações.
A PIDE foi muito severa com o José Afonso. A música a partir de uma determinada altura passou a ser a forma de subsistência da sua família e era de um enorme stress para ele, o esforço de manter a sua liberdade mas de forma que o censor deixasse o seu poema ser cantado.
Só uma pessoa com a genialidade de José Afonso o conseguia fazer. Em que momento Zeca Afonso fez a diferença na sua vida?
E essa admiração e solidariedade contribui para a pessoa que é hoje? Nós somos sempre fruto das vivências que temos.
As pessoas que passam pela nossa vida, contagiam. Não seria a mesma pessoa se não tivesse conhecido José Afonso, como não seria a mesma pessoa se não tivesse conhecido os meus amigos da adolescência ou da idade adulta. Era outra pessoa seguramente.
No período pós-25 de Abril. Havia uma grande comunhão de ideias. Falava-se de tudo. Para um jovem, encontrar um adulto com quem se podia falar de tudo, não era fácil. Essa intimidade, essa confiança e essa admiração sobretudo, pela sua obra e pelo seu exemplo de vida, porque era um homem solidário, um homem de causas.
Generosamente, quando acreditava numa causa, queria apoiar e fazia tudo aquilo que estava ao seu alcance. Mas isso também lhe veio estragar um pouco a vida.
Ele nunca deixou de estar presente onde achou que devia de estar, mesmo com o cansaço de cantar em condições muitas vezes difíceis, sem uma aparelhagem sonora, ou onde chovia ou fazia sol. Isso provocava uma forte admiração e solidariedade com ele. Nós somos sempre um somatório daquilo que somos neste momento e o que vivemos no passado.
É sempre a somar. Portanto as nossas memórias organizam-se também, a nossa consciência organiza-se em função das vivências que tivemos e com quem tivemos. E o José Afonso foi uma das pessoas que mais contribuiu para ter a consciência e apoiar as causas que apoiei ao longo da vida.
Qual é a memória mais querida que tem com José Afonso?
Tenho muitas. Recordo com alegria a forma carinhosa como ele tratava o seu filho mais novo, que era um menino ainda pequeno.
A forma despegada que José Afonso tinha. Nós tínhamos um pequeno grupo de teatro no Círculo Cultural, e telefonavam nos às vezes porque tinham recebido um contacto de uma cooperativa agrícola, de pessoas que estavam em dificuldade, para ele ir cantar.
Ele quando estava mal de saúde, perguntava-nos se nós não podíamos ir também para que o espectáculo não durasse tanto tempo. Era comovente perceber que, mesmo com a saúde debilitada, disponibilizava se em nome dos valores em que acreditava. A disponibilidade, a inquietação, a capacidade de se interrogar sempre, isso aprendi um pouco com ele. Pensar com a própria cabeça, não ter tudo como verdades feitas. Procurar sempre conhecer mais.
Como recorda a vida antes do 25 de Abril?
Fui tomando consciência da ditadura muito cedo.
Muito jovem. Havia uma guerra colonial. O Estado português obrigava todos os jovens do sexo masculino a irem para a tropa e para a guerra em África.
E esse aspecto de ter de ir para a guerra marcava qualquer jovem. Principalmente a partir dos 15 anos, porque era quando se tomava consciência que faltavam três ou quatro anos para ir para a guerra. Era uma coisa que me perturbava seriamente. Era esta recusa e depois perceber que havia outras guerras, como a guerra do Vietname. Os jornais não falavam da guerra colonial portuguesa, mas sabia-se de pessoas que iam para a guerra e não voltavam, crimes que eram cometidos, e isso, digamos que é o primeiro abanão que tenho.
O não querer viver isso. Sempre me organizei. Fui para Paris. Voltei porque era difícil procurar alguma documentação que ainda faltava e depois deu-se o 25 de Abril. Vim para Portugal em Janeiro ou Fevereiro. Fui trabalhar para a Socel porque já não tinha dinheiro para voltar para França.
Foi para Paris fugir à guerra?
Era para não ir à guerra. Fui ver quais eram as condições que tinha. Ainda não tinha terminado o curso, era muito jovem, não era um exilado político, no sentido em que não tinha sido preso como algumas pessoas que conheci.
Na altura usava-se uma expressão; os refratários. Eram as pessoas que não se inscreviam, porque era uma obrigação que todos os rapazes tinham se de inscreverem na tropa. Aqueles que não o faziam eram os refratários.
E isso aconteceu comigo. Fui e voltei a pensar que o regresso podia ser complicado e não foi porque se deu o 25 de Abril. Tive uma margem de tempo que ainda deu para fazer alguma coisa, como distribuição, durante a noite, de comunicados de presos políticos e apelar ao ‡m da guerra.
Como vive agora aquilo que dantes era proibido?
Há coisa que não se podiam fazer antes. Acho difícil para que aqueles que não as viveram, acreditarem que eram mesmo assim. Mas esta é provavelmente das imagens que tenho mais violentas. Violentas não no sentido da agressão física.
Um jovem de 15 ou 16 anos que passeasse de mão dada com a sua namorada ou amiga, podia ser intersectado imediatamente pela polícia.
Recordo-me de que não deveria de ter mais de 15 anos, tinha uma namorada, e estávamos sentados no jardim do Bonfim. Estávamos a estudar, mas poderíamos estar de mão dada ou ter dado um beijo, e apareceu um polícia que nos pede a identificação e diz para a minha namorada “o teu pai não sabe que estás aqui, mas vai saber já porque vai ser chamado”. Uma violência sobre dois miúdos, que é disso que se trata, por parte da polícia do Estado.
Claro que quando ela chegou a casa, contou imediatamente ao pai e ele foi à esquadra a dizer que eles não podiam fazer isso. Estou a dar este exemplo que não tem nada a ver com distribuir comunicados, pintar paredes, ou manifestações públicas, mas sim com a nossa intimidade. De estar com a pessoa de quem gostamos e trocar um beijo. Não podia comprar os discos que chegavam. O cinema era só os filmes que passavam pela censura.
Algumas cenas eram cortadas. E depois a vida nessa altura era difícil. Um Estado de ditadura representa um massacre das liberdades individuais. A destruição da cultura.
A destruição da vida como nós a conhecemos hoje. Setúbal tinha fábricas de conserva por todo o lado. A cidade estava rodeada de barracas.
O analfabetismo era uma coisa gigante. A mortalidade infantil nos primeiros anos era enorme. A ditadura tinha esse peso gigante sobre a vida das pessoas. Os bairros de barracas estragavam completamente a cidade.
A Saúde, que conhecemos hoje como o SNS, não existia. No Ensino, dos colegas que tive na primária, só eu e outro é que fomos para o Secundário.
Todos os outros ficaram por ali, porque os pais precisavam deles. As conserveiras, que eram as mulheres, trabalhavam quando havia peixe. Tocava uma sirene em vários pontos da cidade e corriam para o trabalho.
Se tinham filhos, levavam-nos ao colo. Depois, ficavam debaixo delas enquanto arranjavam o peixe, porque não havia outra forma de o fazer, porque as avós também trabalhavam. A vida era muito difícil.
Como era a vida de operário da Socel nessa altura?
Havia dois tipos de contracto. Havia os funcionários da Socel, e havia um número gigante de pessoas que trabalhavam para empreiteiros que eram contratados pela Socel.
Estes últimos, não tinham direitos, tinham salários piores, trabalhavam aos sábados. Mas a Socel não era dos sítios piores para trabalhar. Tinha salários pequenos, mas tinha salários. Mas não havia qualquer possibilidade de falar com os colegas sobre o estado do país.
Toda a gente tinha receio. Eu recordo-me que, com outro colega, colávamos autocolantes que diziam “fim à guerra colonial” e “todos à rua no primeiro de Maio”. E fazíamos aquilo numa fita. Depois com a esponja, passávamos uma cola e colávamos nas caixas do correio durante a noite e também na fábrica.
Claro que colávamos ao final do dia, às 18 horas da tarde, no Inverno. No dia seguinte quando regressávamos, a segurança da empresa já tinha arrancado tudo. Embora não fosse a pior empresa, eu, sendo um jovem, não tinha família a sustentar. Os meus colegas eram casados e tinham filhos e mulheres que ficavam em casa.
Actualmente, o que faz com a sua liberdade?
Não tem nada a ver. Podemos não gostar do governo actual, do anterior e do próximo. Mas podemos dizê-lo. Não tenho problemas em escolher o livro que quero.
Compro. Vou ouvir os discos que quero, estão todos disponíveis. Digo o que quero, mesmo que sejam disparates. Não estou com receio que o vizinho do lado seja informador da polícia. Vivemos numa realidade completamente distinta.
*Estudante de Jornalismo do Instituto Politécnico de Tomar (IPT)
HENRIQUE GUERREIRO