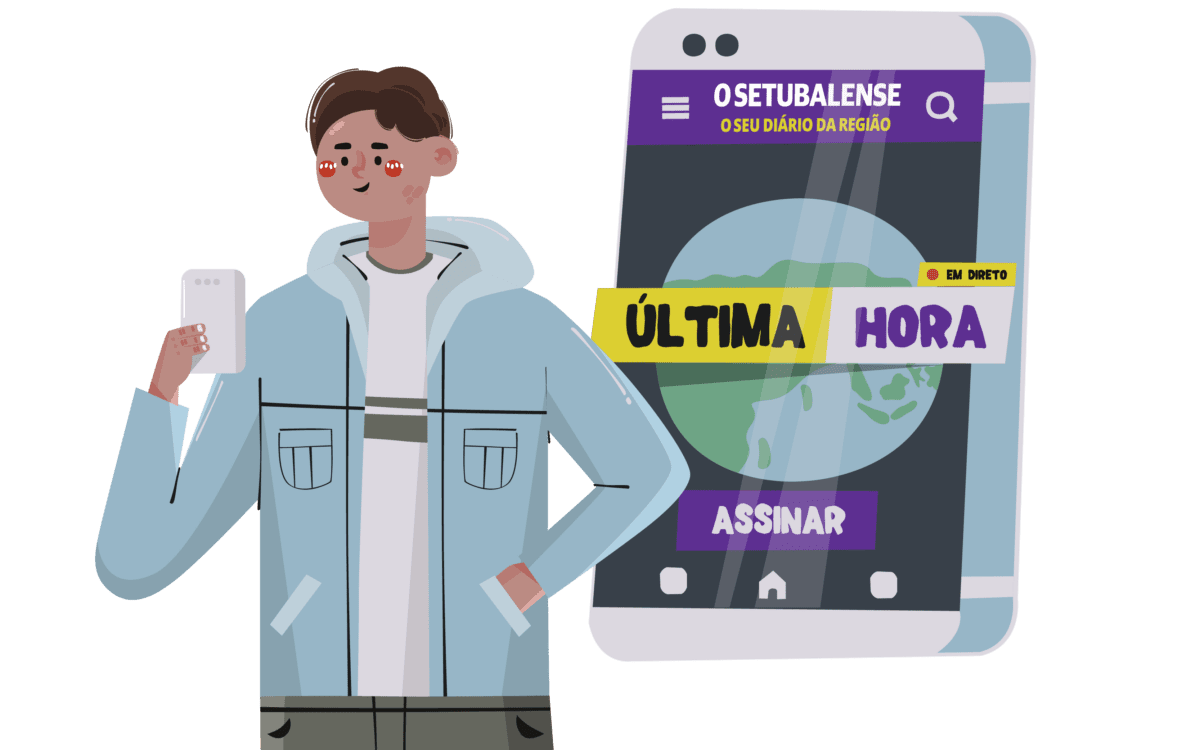Até meados do século passado, a economia da capital e das localidades ribeirinhas do estuário do Tejo assentava, em grande parte, no tráfego fluvial, nomeadamente no transporte de bens, mercadorias e pessoas e na carga e descarga de navios, sobretudo no período anterior ao desenvolvimento do Porto de Lisboa e à construção da Ponte 25 de Abril (ou Salazar, na época), a qual facilitou os transportes rodoviários, contribuindo para retirar importância ao mesmo. A paisagem ribeirinha já foi, então, marcada pela quantidade e diversidade de embarcações de madeira navegando à vela. O maior proprietário de fragatas e varinos que existiu no Seixal foi a fábrica corticeira Mundet, que possuía a sua própria frota para transporte de matérias-primas e dos produtos fabris. Estas embarcações foram vendidas pela empresa nos finais dos anos 60, na sequência do declínio do tráfego fluvial. Outras atividades importantes na região do Seixal eram a seca do bacalhau e o trabalho nos estaleiros navais.
A maior parte do trabalho era feita ao ar livre pelo que no inverno os trabalhadores ficavam expostos à lama, onde trabalhavam descalços, e tinham de parar quando chovia, o que afetava o andamento dos trabalhos em curso mas também os vencimentos porque não recebiam pelas horas em que estivessem parados: “No Inverno aqui no Sr. Alfredo [dos Reis Silveira] não se podia trabalhar, eu ia trabalhar ali para o Maria Carlota, aquilo era muito frio, eu até às onze horas da manhã queria abrir as mãos para segurar o martelo e não podia, não se podia trabalhar. Atualmente há máquinas para fazer certos trabalhos e antigamente não havia, era tudo à força de braços, de esforço e mais outra ainda, uma pessoa tinha poucos recursos e tinha que andar a trabalhar descalço. Trabalhávamos na lama, muitas vezes quando os barcos vinham e as marés eram mais pequenas nós tínhamos que trabalhar na lama”. As palavras são de Fernando João Tavares Santana, carpinteiro de machado, em 1988, aos 61 anos de idade e podem ser lidas no catálogo da exposição, como os testemunhos que se seguem.
De um modo geral não existiam trabalhadores efetivos ou então existiam em número muito reduzido. A prática corrente era a de contratar trabalhadores e trabalhadoras de acordo com as necessidades de momento, ou seja, o número de trabalhadores em cada estaleiro dependia do volume de trabalho existente, como recorda Francisco Valente da Fonseca, Calafate, em 1988, com 67 anos de idade: “Os estaleiros naquele tempo falhavam, a gente não era efetivo, hoje havia e amanhã não havia, a gente perdia mais era no Inverno, no Inverno chegámos a estar até um mês e mais sem trabalhar, sem ter trabalho. Enquanto no Verão, está claro, tinha de se arranjar no Verão, como a formiga, não é?”.
A precariedade das condições de trabalho estava generalizada em todos os estaleiros, pelo que ocorriam habitualmente acidentes de trabalho, descritos por várias fontes orais como, geralmente, de “pouca gravidade”. Para responder à sua ocorrência, a maioria dos estaleiros tinha um seguro indiferenciado, ou seja, um seguro que abrangia um determinado número de trabalhadores sem haver uma especificação da identidade dos mesmos, o que permitia abranger qualquer trabalhador que o estaleiro tivesse de momento. Em caso de doença, principalmente se fosse prolongada, a situação tornava-se mais complicada, uma vez que os trabalhadores não eram remunerados pelos dias em que não trabalhavam. Como resposta a esta carência, os trabalhadores da construção naval desenvolveram um sistema de interajuda que designavam por “subscrição” e que consistia na recolha de donativos feita em todos os estaleiros da zona, sendo que a quantia angariada era depois entregue ao colega que se encontrava doente e à respetiva família. “Havia um camarada ou dois, juntavam-se: ‘é pá, vamos tirar uma subscrição para aquele camarada que está doente, coitado, já está à rasca há uma data de tempo’ e depois iam os amigos, a pessoa dava cinco tostões, dez tostões e depois ele apontava num papel o nome da pessoa que deu tanto. Levavam o papel, entregavam ao doente ou à família, era assim as ajudas que havia para aqueles coitados”, conta o mesmo trabalhador.
Todavia, paralelamente a este ambiente de solidariedade e união, existiam situações de conflito: em primeiro lugar, uma certa resistência, por parte de alguns mestres, em transmitir aos aprendizes o seu saber-fazer (inclusive entre familiares) e, em segundo lugar, a rivalidade profissional que existia entre os carpinteiros de machado e os calafates que, pelo menos no estuário do Tejo, se constituíam como classes relativamente estanques, tentando reclamar para si o protagonismo na atividade de construção naval em madeira. “Até se dizia, havia um ditado e era verdade: ‘quem não tem ofício nem arte ia para calafate’”, afirma Arnaldo Cunha, carpinteiro de machado, em 1988, aos 70 anos de idade. O carpinteiro de machado era o responsável pela construção do casco de uma embarcação, desde o esqueleto ao tabuado (ou revestimento). O calafate, por sua vez, era o responsável pelo isolamento de uma embarcação. Procedia às operações de calafeto que consistem em colocar estopa nas juntas do tabuado.

“O Núcleo Naval do Ecomuseu abriu ao público em 1984, num antigo estaleiro naval da freguesia de Arrentela, que ali funcionou até ao final da década de 70 do século XX. O edifício foi entretanto remodelado para receber uma oficina de construção artesanal de modelos de barcos do Tejo, inaugurada em 1993, e um pavilhão de exposições, alvo de uma requalificação arquitetónica e museográfica da responsabilidade do arquiteto Cândido Chuva Gomes. Na oficina de barcos, artífices ocupam-se da construção e da reparação de modelos, executados à escala a partir da reprodução de planos adquiridos no Museu da Marinha ou de planos originais de embarcações do Tejo. Quem visita o Núcleo tem uma oportunidade única de contactar com os diversos barcos tradicionais que costumavam preencher o estuário do Tejo.” É assim que o site da Câmara Municipal do Seixal se refere ao núcleo naval do Ecomuseu Municipal do Seixal. Para além do núcleo da Mundet e do núcleo naval, existem mais espaços do Ecomuseu: núcleo da Quinta da Trindade, núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol, núcleo do Moinho de Maré de Corroios, extensão na Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços e extensão na Quinta de São Pedro.
A fotografia mostra uma maquete do antigo estaleiro, baseada na reconstituição da sua atividade entre os anos 50 e 70, “fase final de uma época em que ali ainda se construíam e reparavam embarcações de madeira, tais como fragatas e varinos, destinadas essencialmente à navegação de tráfego local e ao transporte de mercadorias entre as margens do estuário do Tejo”, como explica um folheto informativo do Ecomuseu Municipal do Seixal. O edifício que se vê na maquete, em ponto pequeno, é o espaço em que está inserido o museu. A exposição nele patente intitula-se “Barcos, Memórias do Tejo” e é dedicada, como o nome indica, aos barcos do Tejo, evocando a construção naval, a navegação de tráfego local e a pesca como aspetos marcantes da história do concelho do Seixal, e, em geral, das populações ribeirinhas do estuário. Esta suposta vocação das várias localidades, quer para a pesca, quer para o tráfego local, traduziu-se, de certo modo, nos respetivos brasões das duas cidades existentes na atualidade: no brasão do Seixal figura uma muleta de pesca e no de Amora uma fragata carregada com pinho.

Aproveitamento da baía para além do museu
Longe do tempo em que a baía era apenas um local de trabalho para os residentes do Seixal, maioritariamente ocupados em profissões relacionadas com o rio Tejo, hoje a baía é vista como um espaço de lazer, onde estão em curso obras de revitalização, inclusive para aproveitamento turístico. Com várias máquinas e muito espaço para correr ou andar, a baía do Seixal apresenta-se como um ginásio ao ar livre onde permanecem vestígios das atividades que dominavam a região anteriormente, sendo os mais relevantes o núcleo naval do Ecomuseu Municipal do Seixal e as embarcações tradicionais, ancoradas no cais, que realizam passeios no Tejo entre a Primavera e o Outono. Existem, ainda, diversos tipos de atividades náuticas, incluindo aulas de canoagem.

Embora os cacilheiros continuem a levar os passageiros entre Cacilhas e o Cais do Sodré, este barco em particular passou a ter outra função, segundo informações da NiT: em janeiro de 2016, reabriu completamente renovado para funcionar como restaurante. Dina Oliveira foi a responsável pelo projeto. Antes de passar a ponte que dá acesso ao barco, há uma pequena casa onde é contada a história do barco, ou melhor, do “Rio Tejo Segundo”, o seu primeiro nome: foi construído em 1925 nuns estaleiros da Alemanha; esteve na cerimónia de receção à Rainha Isabel II no Cais das Colunas, em 1957, e funcionou como uma embarcação de passageiros que levava até 553 pessoas. No piso superior fica a área mais dedicada a refeições completas. As cadeiras são forradas a cortiça e as mesas, sem toalha, imitam ardósia. Ao todo, o restaurante tem capacidade para mais de 100 lugares, 50 deles ficam neste piso. No convés do barco funciona um minimuseu com algumas fotografias e peças antigas da embarcação. Aqui há uma mesa para 14 pessoas onde se podem fazer jantares privados, apresentações e workshops. No topo é montado, no verão, um relvado artificial com pufs e um bar de apoio.
Contrastando com esta descrição de modernidade e terciarização, aparece um homem que apanha amêijoas junto ao rio, provavelmente para consumo próprio e/ou por lazer, mas que não deixa de destoar do conjunto apresentado para mostrar que há mesmo coisas que nunca mudam.