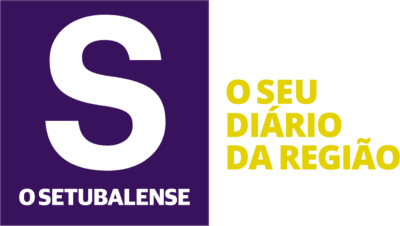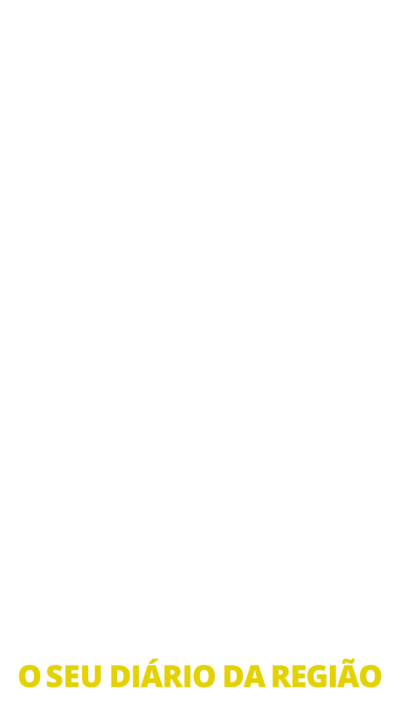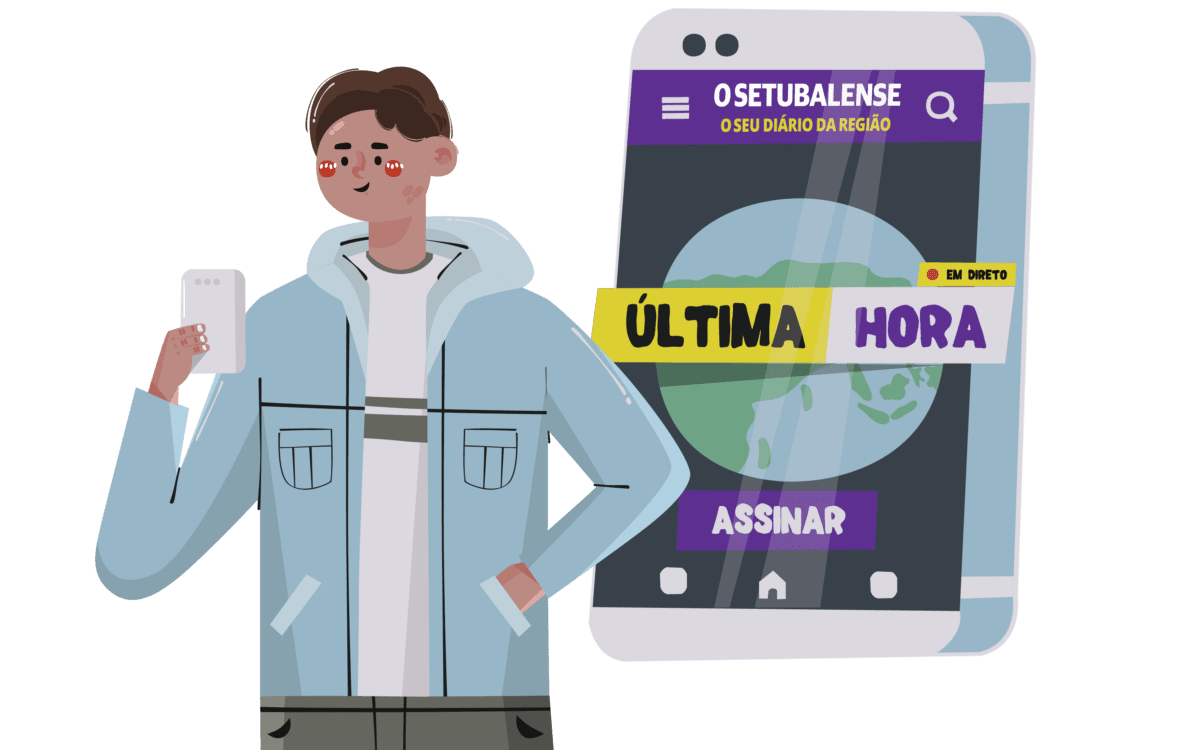Na semana transacta, estava a meditar sobre a necessidade de termos uma Europa forte e unida, em contraponto com a China e a Rússia, dois países exógenos, do lado de lá da Democracia.
Vamos hoje ao país endógeno, os Estados Unidos da América (EUA).
Europa e EUA estão unidos por laços civilizacionais comuns e conceitos semelhantes de Democracia. Prefiro de longe a democracia imperfeita americana que as ditaduras obscuras russas e chinesas.
Durante as duas guerras mundiais e durante toda a Guerra Fria, o apoio norte-americano foi indispensável.
Todavia, eu sou muito crítico dos EUA, nomeadamente nos seus conceitos estratégicos de política externa. E das armas.
Os norte-americanos são especialistas em vender armamento e fazerem grandes negociatas. Armas para fora e para dentro. E, de vez em quando, temos um massacre como o que aconteceu numa escola do Texas.
Quando o Partido Republicano sustenta que os professores devem andar armados nas escolas, estamos basicamente conversados.
Regressando à política externa, muitas vezes os EUA evidenciam muita inabilidade e uma miopia política confrangedora. Para além disso, acham que são os polícias do mundo.
Exceptuando Barack Obama, todos os restantes onze presidentes norte-americanos tiveram uma abordagem errada, por exemplo, com Cuba. O comunismo combate-se com firmeza, mas temperado com o exemplo democrático de bem-estar social e nunca com sanções durante décadas.
Por outro lado, o Vietnam e os seus ensinamentos. A estrondosa derrota do grande exército americano, contra um bando de “maltrapilhos” norte-vietnamitas, devia fazer os seus responsáveis reflectir sobre a vontade e a determinação de um povo contra o seu agressor e integrar esses conceitos e aprendizagens em situações futuras.
Em vez disso, a miopia política foi sendo uma constante. Granada, Iraque, duas vezes (lembram-se das armas de destruição maciça?), Somália (entrada de leão e saída de cordeiro).
Quanto a mim, a situação mais grave em termos simbólicos ocorreu no Afeganistão.
A Inglaterra partiu aí os dentes no século XIX; já nos séculos XX e XXI, a União Soviética atolou-se nos seus desfiladeiros abruptos e os Estados Unidos, mais uma vez, fizeram-nos reviver o Vietnam e a saída apressada de Saigão, no meio daquela confusão de gente apavorada, a tentar fugir dos talibans e a trepar para os aviões americanos. Desta vez, em Cabul.
Aparentemente, não aprenderam nada. E isso torna-os inconsequentes e perigosos.
As grandes potências utilizam normalmente a mesma cartilha. Primeiro entram, farejam a rivalidades, escolhem um lado e armam-nos, para se combaterem entre si.
Quando começam a dar aborrecimentos, enviam tropas para controlar as tensões e cuidar dos próprios interesses.
Mais tarde ou mais cedo, abandonam-nos, deixando-os entregues à sua sorte, todos bem armados e odiando-se mutuamente, bem como ao estrangeiro, durante décadas.
Alguma da nossa esquerda doméstica exultou com as figuras tristes que os norte-americanos fizeram no Afeganistão.
Quanto à invasão da Rússia à Ucrânia, com os crimes associados, mortes de civis, execuções sumárias, roubos e violações de mulheres amplamente divulgados, essa mesma esquerda remete-se a um silêncio cúmplice ou a meias-palavras cínicas e hipócritas, evidenciando uma dualidade de critérios vergonhosa.
O que me leva à questão essencial: a necessidade imperiosa de termos uma Europa forte, quer sob o ponto de vista político, económico e militar, como esta guerra veio, infelizmente, provar.
Necessitamos de forças armadas europeias fortes, consistentes e dissuasoras.
Sobretudo, a existência de uma cada vez maior autonomia relativamente aos EUA.
Cooperação sim; dependência funcional e estrutural, o menos possível.
Europa e EUA possuem abordagens e interesses muitas vezes divergentes que em nada nos beneficiam.
E é precisamente isso que tem de mudar.