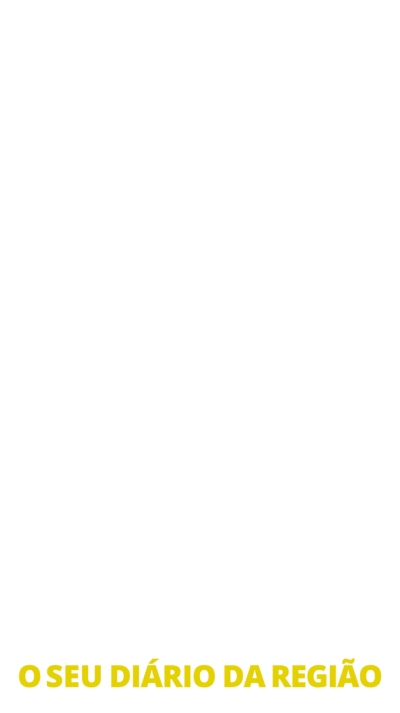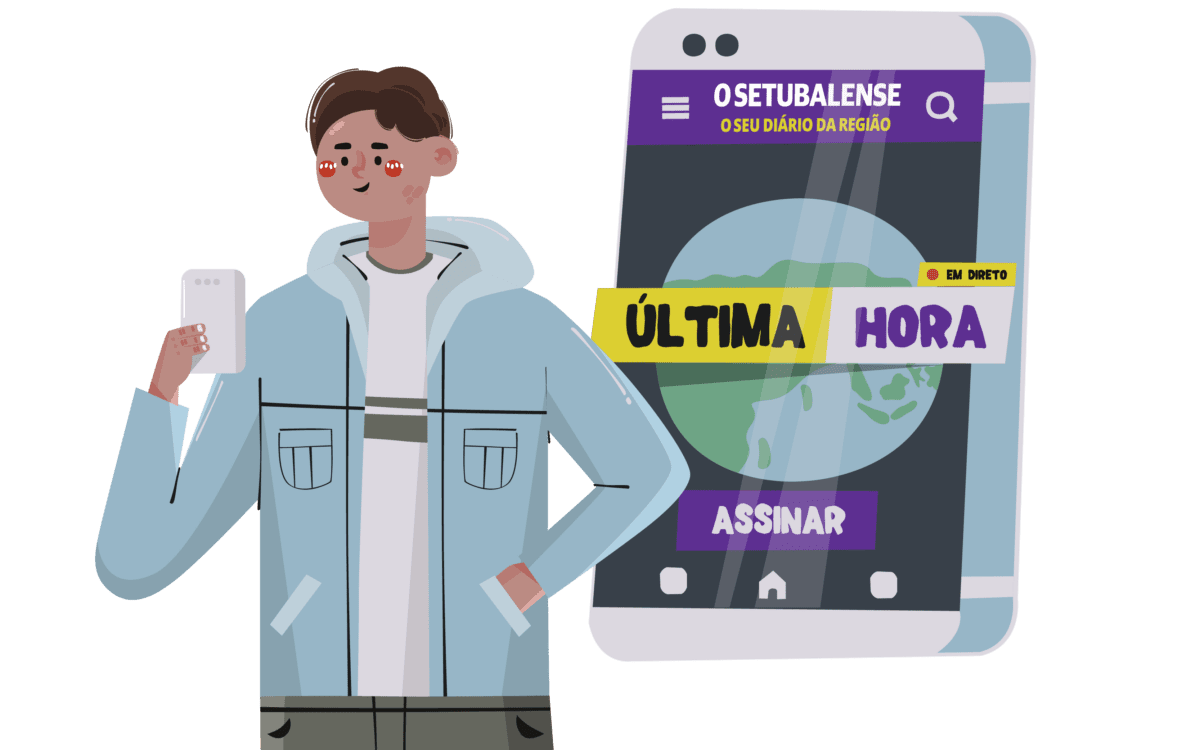A “merdificação”, se bem entendo, consiste no atulhamento da dimensão administrativa no seio laboral, ao ponto em que se torna mais importante do que o trabalho em si
A publicação desta crónica, que pretende pincelar alguns caminhos possíveis sobre a utilização de ferramentas de inteligência artificial (IA) na actividade jornalística, atende a um convite que, desde já, agradeço. Contudo, apesar das leituras que fiz para ganhar balanço e bagagem teórica (das quais destaco os números das revistas Shifter e Vértice especialmente dedicados ao tema), elas estão longe de me conferir autoridade a este respeito. Para tal, aconselho o trabalho jornalístico do João Gabriel Ribeiro, da revista Shifter, o qual considero aproximar-se muito à comunicação de ciência.
Merdificação do jornalismo: neutralidade é só outro nome para docilidade
Chamando para a mesa David Graeber e o seu conceito de “merdificação do trabalho”, desenvolvido no livro Bullshit Jobs (2018), tem sido bastante transformador reparar na forma como o conceito se aplica ao meu local de trabalho: um jornal regional. A “merdificação”, se bem entendo, consiste no atulhamento da dimensão administrativa no seio laboral, ao ponto em que se torna mais importante do que o trabalho em si. Convocando ainda o grupo Krisis e o seu Manifest gegen die Arbeit (1999), parece-me que, mais do que uma devoção ao ídolo do trabalho, estamos perante uma devoção à merda: trabalhar não é merda por si mesmo, dado que pode desencadear bem-estar social; o trabalho pelo trabalho, ou seja o trabalho inútil, é que o é.
Ora, é precisamente este o cenário de todos os projectos de pretenso jornalismo que atendem às lógicas do mercado: uma participação na crise de superprodução digital encarada como uma lei natural.
Apesar do meu jornal até privilegiar a versão impressa, é muito bem visto pelas chefias a capacidade de produzir o maior volume possível. O funcionário mais apreciado, aquele que é descrito como “uma máquina” (por si revelador), é o que produz mais artigos sem erros no menor tempo possível. Ao longo do tempo, fui tentando perceber de que modo poderia pôr em prática este princípio, não para ser mais bem visto, mas para trabalhar o mínimo tempo possível e aplicar parte do tempo roubado em actividades mais prazerosas (como jogar xadrez ou acompanhar a NBA) ou intelectualmente mais estimulantes (como ler teoria anarquista ou escrever poemas). Assim, comecei a introduzir no meu trabalho desde os chatbots mais convencionais (ChatGPT, Copilot, Gemini) até às ferramentas mais específicas para jornalismo (como NotebookLM, Claude ou Perplexity). Através destas alterações, consigo recuperar, em média, um dia de trabalho.
A IA surfa na crise da recepção e na neutralidade como monoteísmo
A conclusão mais surpreendente que retirei desta mudança metodológica foi o facto de, até ao momento (que eu saiba), nenhum leitor ter dado pela diferença. E se isso significa que a literacia digital, principalmente em faixas etárias envelhecidas, é totalmente permeável a estes engodos, também significa que não existe uma recepção digna desse nome, que efectivamente saiba ler para lá das estruturas já previamente robotizadas do jornalismo mainstream.
Mais surpreendente ainda foi a conclusão que tirei relativamente à estrutura editorial: não só não deu pela diferença, como até me parece que prefere um registo linguístico que atende aos padrões de neutralidade dominantes. Desde então, nunca mais fui chamado à atenção por derivas “interpretativas” ou “opinativas”, que não são mais do que a subjectividade humana inevitável. Isto acontece porque os modelos de redacção estão desenhados a partir dessa máxima da “neutralidade”, um nome pseudo-científico para mascarar o convite a uma dessensibilização que tudo escreve sem nada dizer.
O método “científico” tem tanta preocupação em garantir que os trabalhos não contenham reflexões pessoais que, ao fazê-lo, já incorpora a neutralidade incipiente que os Grandes Modelos de Linguagem (LLM) se limitam a reproduzir. O humano deve ser totalmente neutro. Curiosamente, a máquina já não pode. Foi esta obsessão com a neutralidade que nos conduziu aos LLM, não o contrário.
Portanto, é mais provável que a direcção do jornal considere “mau jornalismo” um artigo com o meu cunho pessoal do que um artigo resultante de um prompt. Se os hilotas da produtividade querem palha e eu posso pôr uma máquina a produzi-la em meu lugar, então vou fazê-lo sem qualquer tipo de remorso “deontológico”. Se vivemos na sociedade da simulação, o empregador deve sentir na pele, sem misericórdia, o prazer lúdico da falsificação. Usar máquinas para recuperar tempo roubado não constitui qualquer falha deontológica: aceitar uma neutralidade iluminista que apenas reproduz as variações controláveis pelo sistema é-o muito mais.
A culpa é, claro, da máquina
Outro argumento bastante irónico que tem entrado nos debates sobre utilização de IA no trabalho intelectual/editorial prende-se com a responsabilização: se foi a máquina que fez, quem é culpado quando há uma falha? A incorporação de sistemas de validação através de código (QR code, por exemplo) já revela a resposta: a culpa é da máquina; ou seja, não é de ninguém. Na senda da burocracia kafkiana que teve como corolário o nazismo, a máquina linguística concretiza o sonho molhado do Iluminismo: impor a Razão sem que lhe sejam imputadas responsabilidades.
No jornal onde trabalho, existe uma política de não assinatura de todas as peças que não constituam crónicas ou artigos de opinião. Paralelamente, persiste uma política editorial de “colocar os outros a trabalhar para nós” (citação ipsis verbis), ou seja de solicitar à entidade visada na notícia que ela mesma escreva a peça, posteriormente a rever pelos jornalistas. Há inclusive directivas editoriais para apenas mexer nessas peças caso existam erros de ortografia ou sintaxe – directivas que não cumpro, pois conseguem ultrapassar até o meu cinismo.
Ora, derivas antropomórficas à parte, o que faço (sempre que possível) é precisamente “colocar os outros [os chatbots] a trabalhar para nós”. “Mas, assim sendo, o que fazes já não é jornalismo, mas copywriting encapotado de jornalismo.” Precisamente. A questão é que, antes da introdução da IA, já não o fazia.
*
Estou em crer (optimisticamente, pelo menos) que a realidade que descrevi não tem a mesma intensidade em todas as redacções, muito menos nas redacções em que a figura do director não coincide com a do editor (caso desta, com a designação de um director de fachada). Também estou certo de que poderia adoptar outras abordagens mais corajosas e humanistas em defesa desse “bem nobre” que é o jornalismo. Aceito e reconheço críticas que me possam ser dirigidas nesse sentido.
A elas, simplesmente respondo com uma das frases do monólogo com que termina o filme Fellini 8 1/2: “Destruir é melhor que criar quando não criamos as coisas realmente necessárias.”

João P. Mendes * Jornalista – Jornal N
Atualmente na imprensa local. Política, cultura e desporto são os tópicos onde tem aprofundado conhecimentos e experiências. Dentre os géneros jornalísticos, é particularmente apreciador da crónica